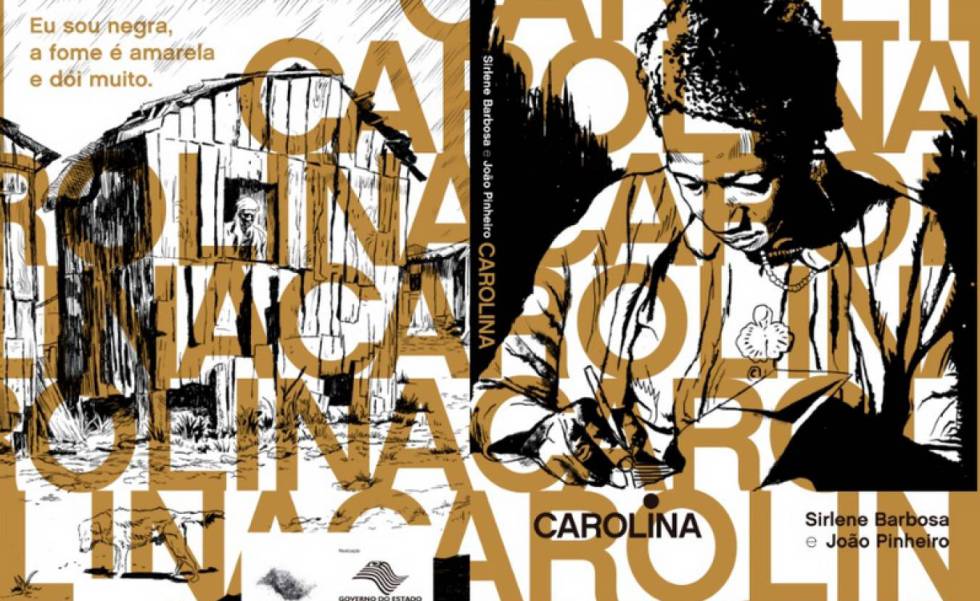Misturando drama e fantasia, O Garoto do Espelho usa um menino de 12 anos como guia de uma jornada mística pela África.
Na busca constante por conteúdos de diversos países, a Netflix apostou suas fichas no filme nigeriano O Garoto do Espelho. Mas é bom avisar desde já que a obra não possui nenhum ligação com o brasileiro O Menino no Espelho.
Os dois percorrem caminhos fantásticos, mas o longa que está no catálogo da Netflix é um drama fantástico pouco conhecido que se passa no meio das florestas africanas.
A história de O Garoto do Espelho
O Garoto do Espelho acompanha Tijan, um adolescente britânico que é levado para a terra natal de sua mãe, na África, após machucar outro garoto durante uma briga de rua. Quando chega na cidade de Banjul, ele começa a perseguir a aparição fantasmagórica de um garoto sorridente (que, por coincidência, aparece num espelho) e se perde da mãe.
Mas calma: por mais que uma boa parte do filme acompanhe os esforços desesperados da mãe de Tijan, não estamos falando de uma produção de terror. Muito pelo contrário…
Segundo a sinopse liberada pela própria Netflix, o jovem segue essa aparição que só ele consegue ver numa aventura cheia de elementos místicos, ritos de passagem e lições valiosas sobre si mesmo, suas raízes e o pai que ele nunca conheceu.
O diretor e o elenco do filme nigeriano O Garoto no Espelho
O filme foi escrito e dirigido pelo nigeriano Obi Emelonye (Último Voo para Abuja). É bem possível que você não conheça o nome, mas ele é um grande astro na sua terra natal.

Foto: Divulgação
Essa fama permite que o longa seja estrelado outros nomes bem conhecidos do continente africano. Os principais são Genevieve Nnaji (A Estrada Nunca Percorrida), Edward Kagutuzi (Find Me in Paris) e Osita Iheme (Double Mama)
Fique de olho em Nollywood
O Garoto do Espelho não é um longa original da Netflix. É uma produção de 2011 que, assim como acontece com diversas obras independentes, foi adquirida tardiamente pelo serviço de streaming.
Entretanto, mesmo não sendo inédito, o filme é uma ótima porta de entrada para o rico e abundante cinema nigeriano.
É sempre bom lembrar que a a Nigéria tem um mercado gigantesco. Conhecido popularmente como Nollywood, a indústria cinematográfica do país produz em média 1200 filmes por ano, ficando atrás apenas de Bollywood.
É isso mesmo! Você não leu errado… Nollywood está muito na frente da toda-poderosa Hollywood quando o assunto é quantidade de filmes produzidos.
A diferença entre os dois mercados é que os principais lançamentos de Nollywood ficam presos ao sistema de home video. Em outras palavras: raramente ganham espaço nos cinemas ou nas televisões do resto do mundo.
Ainda assim, todos os longas possuem números expressivos de audiência, graças a fidelidade que o povo nigeriano tem com os produtos nacionais (ouviu, Brasil?).
É por isso que, mesmo não sendo uma produção original e exclusiva da Netflix, O Garoto do Espelho merece sua atenção. É um tipo de filme que, na maioria das vezes, fica restrito ao seu país de origem por conta da distribuição, apesar de merecer o reconhecimento do mundo inteiro.
By Flavio Pizzol